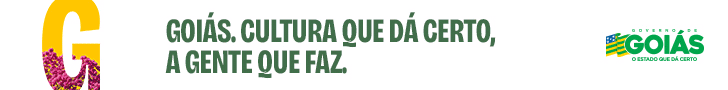Jazz se desprende das tradições ao fundir-se a ritmos contemporâneos
Marcus Vinícius Beck
Publicado em 15 de junho de 2024 às 19:40 | Atualizado há 4 meses
Está na história: jazz se desprende das tradições. Vem do espírito. Entre os anos 20 e 30, artistas como Duke Ellington e Louis Armstrong transformaram a música. Puseram o mundo de joelhos. Charlie “Bird” Parker e Dizzy Gillespie mudaram tudo na década de 40. Eram libertários, esses caras. Miles Davis e John Coltrane, gênios, seguiram os mestres.
Jazz se deu bem com rock. “Bitches Brew”, de Miles Davis, taí pra não me deixar mentir. Ou delirar. Jazz se deu bem ainda com rap. Veja Herbie Hancock: gravou com Kendrick Lamar, tocou com Snoop Dogg. Poucas coisas funcionam tão bem quanto a união desses estilos.
Quando debutara o free jazz, nos anos 50, as sequências harmônicas deixaram de ser usadas nos improvisos. Havia certa predileção pelo atonalismo. À frente do tempo, os músicos buscavam liberdade melódica e rítmica, características também encontradas no estilo modal – no qual as escalas modais ditam o tom dos solos no lugar da progressão de acordes.
Chega-se, então, aos anos 70. Miles se trancou no estúdio para criar uma música densa, sinfônica, com três teclados – comandados por Chick Corea, Larry Young e Joe Zawinul – divididos em acordes dissonantes e discordantes. Dois baixistas – Ron Carter e Dave Holland – se opunham ao clarinete de timbre barítono tocado por Banny Maupin.
Uma das estrelas ali é ninguém menos que o sax soprano de Wayne Shorter. Mestre do sopro, ajuda a guitarra de John McLaughlin a abrir alas para o trompete inconfundível de Miles desfilar rumo aos nossos ouvidos. “Bitches Brew” é improviso. Definiria eu, se me perguntassem, como som orgânico. Temas indianos e árabes se alternam entre as faixas.
Miles foi revolucionário. Sugeriu que Herbie Hancock trocasse o piano acústico pelo elétrico Fender Rhodes. Entre os anos 40 e meados dos 70, criou de forma alucinada. Retirou-se da música por cinco anos, mas retornou em 80. Com o guitarrista Mike Stern, gravou “The Man With The Horn“, em 81, e publicou o ao vivo “We Want Miles”, no ano seguinte.
Inquieto, antenado e frenético, experimentou ainda outra guinada estética a partir de 86. Lançou “Tutu”, em cuja faixa-título demonstrava laços com o hip hop. O disco, como é fácil de imaginar, demorou a ser aceito pelos puritanos. Miles não estava nem aí, contudo. Seu lance era outro e, em 89, adicionou música eletrônica (Hancock o fizera em “Rockit”) ao jazz.
Pioneiro
Aos 65 anos, consagrado e reverenciado, juntou-se ao produtor de hip hop Easy Mo Bee para gravar o disco “Doo-Bop”, lançado em 93. A batida do rap se entrelaça ao timbre do trompete. São nove faixas, mas Miles conseguiu completar apenas seis. Um derrame o levou ao coma. A família decidiu desligar os aparelhos responsáveis por mantê-lo vivo.
Morto em 28 de setembro de 91, Miles pavimentou a estrada para que bandas de jazz-rap pudessem trafegar até nossos ouvidos – como The Roots, originado na Filadélfia, Estados Unidos, ou New Jazz Underground, este formado em Nova Iorque. Veneram a rica linguagem jazzística, mas sem perder a consciência de que é preciso abraçar o novo.
Talvez as duas bandas, pensando melhor, possam ser incluídas no subgênero urban jazz. Surgido nos anos 2000, entrelaça características do jazz clássico aos sons contemporâneos – caso de hip hop, funk e R&B. Quase sempre as melodias são delicadas, com cantos que evocam neosoul. Robert Glasper tem se destacado dentre apreciadores do estilo.
Não há só um sotaque jazzy falado no mundo. Ao contrário, avisa Herbie Hancock, bons sons estão sendo feitos no Panamá, Camboja, África do Sul e Indonésia. Daí não parece fazer sentido tal declaração (equivocada, ressalte-se) dada por Ed Motta, a quem jazz e música clássica seriam preferências de “pessoas inteligentes”. Rap? Ih, “qualquer um que ouve hip hop é burro. Qualquer um”. Seja como for, hip hop é irmão do jazz. Ainda bem.