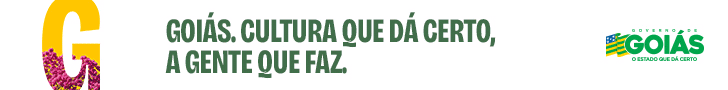“A imprensa vai continuar”, afirma Ignácio de Loyola Brandão
Marcus Vinícius Beck
Publicado em 19 de outubro de 2021 às 17:03 | Atualizado há 3 anos
Ignácio de Loyola Brandão, 85, segue o conselho de Graciliano Ramos: é necessário limpar o texto, usar palavras para dizer, não enfeitar. Cinéfilo, o primeiro ideal profissional do escritor era ser roteirista e diretor de cinema. Aos 16, em Araraquara, município no interior de São Paulo, começou a trabalhar numa publicação onde se dedicou a ler críticas, livros de história, teoria do cinema, revistas com artigos e fofocas. De lá pra cá, acumulou as mais diversas funções em redações.
Já em São Paulo, aos 21, Loyola Brandão foi repórter do jornal Última Hora, fundado pelo jornalista Samuel Wainer em 1951. “Passei a chefe de reportagem, diretor de redação, secretário de redação (seria o editor hoje), editei o caderno de variedade”, recorda-se o celebrado autor e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), em entrevista ao Diário da Manhã, por e-mail. Ele será o convidado do ciclo de palestras Diálogos Contemporâneos nesta terça-feira, 19, às 19h, no Teatro Goiânia, para discutir literatura, pestes, pandemias e distopias
Entrevistador que defende o bate-papo como método para aprendizagem, Loyola Brandão passou anos na Claudia, “então a melhor revista feminina do Brasil, onde as exigências eram fortes”. Da publicação editada pela Abril, migou à Planeta, a do realismo fantástico, extraterrestres, civilizações desaparecidas, poder da mente, saúde, comportamento. “Descobri o outro lado do conhecimento”, afirma o escritor, cujo currículo conta com mais de 40 livros, alguns dos quais sucessos no Brasil e exterior, como “Zero” (1974) e “O Menino Que Vendia Palavras” (2008).
“Me ensinaram a pesquisar antes de fazer cada entrevista. Jamais cheguei junto ao entrevistado sem saber quem era a pessoa, o que pensava. Jamais fiz aquela pergunta clássica e idiota a alguém que desembarcava do avião: o que o senhor está achando de São Paulo?”, declara Loyola Brandão, cuja prática do jornalismo lhe foi ensinada por nomes como Wainer, Dorian Jorge Freire, Remo Pangela, Ibiapaba Martins, Ricardo Ramos (filho de Graciliano) e Egidio Squeff, um dos mais importantes expoentes dedicados à cobertura de guerra ao lado de Rubem Braga e Joel Silveira.
Se na prática esses nomes lhe ensinaram os meandros desse ofício guiado pela ética e que tem como objetivo a busca pela verdade, a leitura também teve papel fundamental na compreensão que teve da profissão. “Aprendi jornalismo lendo Gay Talese, Hemingway, Norman Mailer, Martha Gelhorn, Octavio Malta, Thomaz Souto Correa, Luis Carta. Ética, verdade. Jornalismo é a verdade, não a ficção. A palavra impressa fica e você responderá por ela, dizia Squeff, e isso me norteou”, diz.
Para Loyola Brandão, quem escreve precisa de intuição, instinto, coragem de arriscar, arrojo, visão para sacar as coisas, especialmente o oculto, e não ter medo do absurdo. “Ser visionário não faz mal a ninguém. Às vezes, tudo é tão claro, é só colocar no papel (epa, monitor). Em meados dos anos 70 para 80 quando escrevi “Não Verás País Nenhum”, meio ambiente e ecologia não tinham vindo à tona com a força de hoje. Davam-se os primeiros passos”, explica o autor, cuja obra acaba de sair do forno, numa edição que comemora os anos 40 anos da primeira vez que o livro chegou às livrarias.
“Ninguém sabe o medo que tive de fracassar. Quem ia ler um livro pesado assim? Daí eu entrar com alguma ironia muitas vezes. Literatura, gente, é não ter medo de ousar
Em “Não Verás País Nenhum”, obra publicada pela primeira vez em 1981, Ignácio de Loyola Brandão estruturou a narrativa num futuro não determinado, mas que se faz cada vez mais presente, com falta de água, calor escaldante, queimada de florestas, controle da informação, polícia corrupta, filas para tudo e governantes medíocres. O narrador, indignado professor de História, descreve as ruas com bicicletas se amontoando e a ausência de veículos que não diminuem a aglomeração. “Os ciclistas invadem as faixas de ônibus, sobem nas calçadas, atropelam”, conta Souza.
Loyola Brandão lia nos jornais e revistas histórias estranhas, como neve no deserto do Saara, aquecimento global, doenças em homens e animais (qualquer semelhança com a realidade, é culpa da ficção), degelo dos polos, devastação, crise hídrica do futuro… E se o Amazonas, questiona ao repórter, fosse devastado e transformado num deserto? “Uma metáfora? Sim”, acredita. Então, começou a pesquisar: montou um arquivo de quatro mil notícias, reportagens, artigos, livros e mais livros. “Deu no que deu, inventei, a realidade veio atrás e agora está passando à minha frente.”
“Ninguém sabe o medo que tive de fracassar. Quem ia ler um livro pesado assim? Daí eu entrar com alguma ironia muitas vezes. Literatura, gente, é não ter medo de ousar”, sentencia o escritor. Em seu novo romance, a pandemia, batizada de Funesta, dura sete anos e sete meses e 213 milhões de brasileiros morrem, mas aqueles que conseguiram sobreviver foram enterrados em subterrâneos. “Vou ler breve trecho na minha fala (no Teatro Goiânia)”, antecipa ao DM, adiantando o título da obra: “Deus, por que não diz claramente o que quer de nós?”. “Tirei de Simone de Beauvoir.”
Para Ignácio Loyola Brandão, a coisa mais importante é escrever livros. “Com eles fui para a academia. Os livros são minha vida, a academia é um momento da vida”, diz. Ele afirma que existem elucubrações e preconceitos em torno da vida na ABL, mas a instituição é boa no sentido de relacionamento entre pessoas que olham o Brasil e o mundo, discutindo cultura e tentando praticar ações para modificar o marasmo no qual “nos encontramos. “A academia não é aquele recinto fechado, recheado de doutoras. Ela tem pensadores e tem procurado se repensar, se refazer.”
“Tenho dois livros que hoje são considerados fundamentais. “Zero” e Não Verás”. Tudo bem. E daí? Paro e sento em cima eles? Estou realizado? Ou continuo para superá-los. Ou você luta o tempo todo contra a acomodação ou você é engolido. Fenece. Quando não há mais projetos, sua vida acabou. Pode ir embora. Nenhum escritor pode sentar em cima de sua obra e dizer: aí está. Pronto, fiz o que tinha de fazer? E a vida pela frente vira um vazio?”, reflete o imortal da ABL.
“Tenho dois livros que hoje são considerados fundamentais. “Zero” e Não Verás”. Tudo bem. E daí? Paro e sento em cima eles? Estou realizado? Ou continuo para superá-los. Ou você luta o tempo todo contra a acomodação ou você é engolido.
Com atuação na imprensa escrita desde os anos 1950, quando começou no jornalismo exercendo a crítica cinematográfica num jornal de Araraquara, Loyola Brandão diz que os dias do papel parecem estar contados. Mas garante: “a imprensa vai continuar, se recondicionar, descobrir um modo de prosseguir importante”. Cronista da simplicidade e delicadeza do cotidiano, diz que há um olhar distorcido em torno do gênero. “Ela é tão importante quanto qualquer outro, desde que bem feita, apurada.”
E os paralelos que podem ser feitos entre o período da caserna com o Brasil de hoje? “O que tem achado do manifesto daquele goebelzinho que traçou a política cultural da nova época? Foi demitido, mas tudo que estava ali permanece, porque é a ideologia de um regime. O que acha de Judith Butler sendo ameaçada para não fazer sua palestra? Por que não se pode falar de gênero? E as verbas sumidas da educação, da cultura, da ciência? E a terra plana? A ameaça constante de golpe? A corrupção que ainda prevalece por meio das rachadinhas? O que acha de exposições de artes plásticas fechadas? De gibis que não podem mostrar o beijo de dois homens? E o gabinete do ódio? E as redes de fake News? E os negacionistas?”, devolve.
Testemunha que presenciou o nascimento e a consolidação da ditadura, ao mesmo tempo em que foi censurado tanto como jornalista quanto escritor, Ignácio de Loyola Brandão tem muito a dizer sobre um país que insiste em retornar às páginas mais tristes de sua História. Lê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, portanto, é necessário.