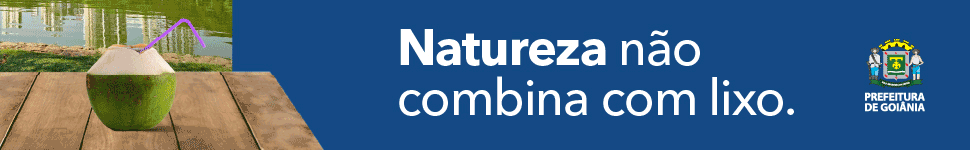Democracia: dominação de classe burguesa
Diário da Manhã
Publicado em 12 de dezembro de 2017 às 00:23 | Atualizado há 7 anosSe é verdade que desde o final dos anos setenta, a esquerda vem fazendo da defesa e ilustração da democracia a razão de sua existência e o critério de sua “legitimidade”, não é menos verdade que sua crise a tem levado a uma adesão ainda mais vigorosa e definitiva à ideologia e às práticas políticas democráticas.
Ora, isso se constitui em aparente paradoxo, pois as dificuldades da esquerda decorrem, em grande medida, justamente de sua subordinação à ideologia e às práticas políticas democráticas.
Se há uma “lógica” nessa subordinação, é aquela que leva a cada derrota na luta contra a burguesia- e, sobretudo, a cada derrota eleitoral-, a uma correspondente aceitação do ponto de vista do adversário, por meio de uma autolimitação dos objetivos e, o que é mais decisivo ainda, por meio da concordância em se lutar dentro das regras e no campo determinado pela burguesia.
Nesse sentido seria suficiente percorrer a história das nossas maiores organizações para constatar que o abandono da perspectiva revolucionária está necessariamente liga a valorização da democracia.
Não seria, assim, exagero afirmar que a esquerda, a rigor, substituiu, em sua concepção teoria e em seu objetivo político, o socialismo pela democracia, transformando – a em objeto de um insólito culto, com os seus sacerdotes, as suas igrejas, os seus rituais e as suas práticas de excomunhão para quem duvida da verdade revelada.
As consequências desse deslocamento são extremamente graves. Por um lado, ele implica o abandono do marxismo como teoria revolucionária; por outro lado, ele implica do abandono de uma estratégia de ruptura e ultrapassagem do capitalismo.
O abandono do marxismo se revela no desvio “politicista” consistente em concentrar toda a questão da democracia nos estrito campo da política ou no domínio do Estado, de tal sorte que tudo se passa como se a democracia contivesse em si o principio de seu (auto) movimento.
As formas da política seriam auto-inteligíveis dotadas de completa autonomia e insuscetíveis de qualquer determinação “exterior”. Ora, se o marxismo foi capaz de fundamentar o conhecimento cientifico da sociedade – dos distintos modos de produção-, foi justamente por demostrar que as formas política, jurídicas e ideológicas não têm história, isto é, que o princípio de sua inteligência encontra em si mesma, mas na “instância econômica”, na articulação entre as relações de produção e as forças produtivas matérias.
A democracia, como forma de Estado fundada no reconhecimento da liberdade da igualdade formal entre os indivíduos, que na qualidade de cidadãos, conformam o Estado segundo a vontade majoritária expressa nas eleições, só é possível nas condições de uma sociedade mercantil – capitalista. De fato, para que uma forma política democrática se constituísse, era necessário que o trabalhador direto estivesse completamente separado das condições matérias da produção, de tal sorte que pudesse apresentar-se no mercado como vendedor de sua força de trabalho enquanto mercadoria. Portanto, era necessário que ele se apresentasse como alguém dotado de capacidade jurídica, como um sujeito de direitos capaz de exprimir a sua vontade e, assim, celebrar um contrato de compra e venda. Ao acordar com o capitalista as condições de venda de si mesmo por um tempo certo, ele realiza as determinações da liberdade e da igualdade. De liberdade, porque só na condição de homem livre é que ele pode dispor do que é seu; da igualdade, porque ele troca valores equivalentes em condição de reciprocidade face ao outro; da propriedade, porque ele comercializa aquilo que é seu, aquilo de que pode dispor.
Nesta condição, a dominação de classe não pode aparecer como uma relação direta de subordinação de um homem por outro, porque isso negaria as determinações jurídicas da liberdade, igualdade e propriedade que o processo do valor de troca exige. Se a sociedade burguesa se constitui como esse “éden dos direitos do homem”, não é porque um espírito iluminado afinal pode descobrir e arrancar da escuridão da história a dignidade humana perdida, mas porque o “movimento de superfície” no qual as figuras do direito exercem os seus poderes, é um momento necessário para que o capital se valorize. Ao mesmo tempo, essas formas jurídicas produzidas pela esfera da circulação mercantil obscurecem o processo de valorização, encobrindo a extorsão de mais-valia (trabalho excedente) e a opressão de classe sob os signos e as luzes da liberdade e da igualdade.
Assim sendo, se a dominação não pode se revelar abertamente, à luz do dia, é em suas sombras que devemos buscar o seu segredo. O processo do valor de troca exige um Estado cujo caráter de classe não se revela imediata e claramente, um Estado que possa ser a expressão de um poder impessoal acima dos interesses de classe, uma real autoridade pública. Essa autoridade pública só pode surgir na presença de uma circulação mercantil fundada no princípio da troca por equivalentes, na qual os sujeitos celebram os seus contratos livremente, sem que uma autoridade coatora interfira em suas relações mútuas. Desse modo, a dominação de classe da burguesia se transmuta em poder público em virtude de a relação de exploração da classe trabalhadora se realizar entre dois possuidores de mercadorias “independentes e iguais”. Se o poder político fosse exercido como poder de coerção de um indivíduo (o capitalista) sobre outro (o trabalhador), isso negaria a natureza mesma da sociedade mercantil-capitalista, tornando impossível a relação entre possuidores de mercadoria. Um possuidor de mercadorias não pode ser subordinado a outro porque uma relação de subordinação entre eles negaria a sua própria condição de possuidores de mercadorias e tornaria a troca mercantil uma impossibilidade prática. É por isso que a coerção deve aparecer como proveniente de uma pessoa abstrata e geral, “como coerção exercida não no interesse do indivíduo de que ela provém, (…) mas no interesse de todos os participantes das relações jurídicas. O poder de um homem sobre o outro homem é exercido como poder do próprio direito, isto é, como poder objetivo e imparcial”.
Essas considerações permitem ver o vinculo indissolúvel entre as formas políticas democráticas e o modo de produção capitalista, permitem, portanto, identificar a natureza de classe burguesa da democracia. A ilusão, supostamente ingênua, de que a democracia é uma “invenção” ou uma conquista dos trabalhadores, obtida contra a vontade da burguesia, revela-se, assim, insustentável teoricamente e profundamente nocivo do ponto de vista político. Do simples fato de a classe trabalhadora ter lutado a favor da extensão das liberdades públicas não decorre que a natureza da democracia seja da classe trabalhadora, ou seja, não há nenhuma relação necessária entre essas duas proposições. Os trabalhadores podem perseguir objetivos contrários ao seu interesse em virtude da trama ideológica que recobre a sua concepção de mundo e as suas práticas políticas. É a isso que se refere Engels e Kautski ao mostrarem que o proletariado no início de sua luta contra a dominação burguesa, ainda permanecia prisioneira da ideologia da classe dominante: “Assim como outrora a burguesia, em luta contra a nobreza, durante algum tempo arrastava atrás de si a concepção teológica tradicional de mundo, também o proletariado recebeu inicialmente de seu adversário a concepção jurídica (…).” Permanece, no entanto, no terreno do direito, particularmente através da reinvindicação da extensão da igualdade, revela-se ilusória ao não possibilitar absolutamente “a eliminação das calamidades criadas pelo modo de produção burguês – capitalista (…)”. De modo, podem concluir Engels e Kautski, “ A classe trabalhadora – despojada da propriedade dos meios de produção, no curso da transformação do modo de produção feudal em modo de produção capitalista, e continuamente reproduzido pelo mecanismo deste último na situação hereditária de privação de propriedade – não pode exprimir plenamente à própria condição de vida na ilusão jurídica da burguesia. Só pode conhecer plenamente essas mesma condição de vida se enxergar a realidade das coisas sem as coloridas lentes jurídicas.”
Que ainda hoje a ilusão jurídica das virtudes da democracia possa penetrar tão fundo no interior das organizações de esquerda, é um sinal do grau do domínio ideológico burguês a que elas estão submetidos.
Esta dominação se manifesta particularmente na pratica dessas organizações. Como uma decorrência necessária de sua concepção jurídica de mundo, isto é, da aceitação teórica da democracia como valor universal, seus defensores sustentam que a luta dos trabalhadores deve se dar exclusivamente dentro do campo da legalidade burguesa, dentro dos limites do “Estado de direito democrático”. Um exemplo claro e extremo dessa subordinação aparece em um texto de Umberto Cerroni no qual ele situa o problema da “saída do capitalismo e da tutela do sistema econômico existente”. “ Uma saída do sistema capitalista – diz- reproduz o risco da incerteza sobre o futuro da ordem social e talvez política. Este problema deve ser examinado no plano das regras constitucionais. Nenhuma proteção jurídica constitucional está de fato disposta, por exemplo, na constituição italiana para aquilo que definimos como sistema capitalista. E mais: uma posição de mudar a ordem capitalista não definida pela constituição constitui uma interpretação limitativa da nossa própria democracia. A nossa Carta constitucional tutela sim a propriedade privada mas prevê também a sua expropriação (pense-se na expropriação já ocorrida das companhias elétricas). O problema, portanto, não é garantir a intangibilidade de um sistema capitalista que seria além do mais difícil de definir, mas ao contrário de convir que qualquer mudança sociopolítica pode e deve ocorrer apenas nas formas previstas pela constituição vigente. Isso significa que o tema teórico é também neste caso o do respeito das regras democráticas: de uma democracia não – limitada e inteiramente remetida ao consenso e aos procedimentos socialistas que continua a exigir medidas para a ‘saida do capitalismo’ deve concretizar as suas propostas em um programa político a ser submetido ao consenso do cidadãos nas formas previstas na constituição.”
A consequência disso é clara: a luta política só seria “legitima” se renunciasse ao emprego de qualquer meio ilegal, se renunciasse ao uso da violência não autorizada pela lei. Em decorrência, as classes populares ficariam prisioneiras das regras do jogo da política burguês, e, o que ainda é mais grave, se tonariam defensores da ordem legal da burguesia. Levando-se em conta que a burguesia ao contrário dos “socialistas” “modernos”, não tem qualquer compromisso com a (sua) democracia, podendo suprimir as liberdades públicas se lhe parecer necessário na luta contra as massas, estas permaneceriam imobilizadas, porque qualquer ação que desenvolvessem fora dos marcos legais poderia acarretar o fim da democracia. Inibindas pela ameaça permanente de a burguesia romper com a sua própria legalidade e suprimir a sua própria democracia, os trabalhadores acabariam se transformando na polícia de sua “liberdade”, de uma liberdade em sursis.
É por isso que um dos pontos centrais da luta de classe é a questão da violência revolucionária, de uma ação que se dê fora dos marcos da legalidade burguesa, portanto, fora dos marcos da democracia. O emprego da violência pelas massas se revela necessário, por um lado, porque ela possibilita romper com o legalismo que leva, afinal, à aceitação da ordem burguesa, e, por outro, porque é o único modo de as massas enfrentar o aparato armado da classe dominante. A rigor, já existe uma luta armada em curso, mas ela é travada unicamente pela burguesia – que dispõe do aparato repressivo do (seu) Estado, além de suas forças armadas “privadas” -, contra as massas desarmadas e dominadas pelo legalismo.
Analisando e extraindo as consequências teóricas das lutas de classe no final dos anos 40, em um texto que nada tem “conjuntural”, Marx e Engels sustentam com clareza a posição acima exposta. Referindo-se à atitude que as massas devem tomar em relação aos “democratas burgueses”, no curso da revolução, Marx e Engels asseveram que os operários “(…) devem estar armados e organizados. Dever-se-á armar, imediatamente, todo o proletariado, com fuzil, carabinas, canhões e munições; (…) os operários devem procurar organizar-se independentemente, como guarda proletário (…) em empresas do Estado (os operários) deverão promover seu armamento e organização em corpos especiais (…). A nenhum pretexto entregarão suas armas e munições; toda tentativa de desarmamento será rejeitada, caso necessário, pela força das armas.”
Marx e Engels chegaram a defender o “justiçamento” pelas massas dos agentes da repressão: “os operários não só devem opor-se aos chamados excessos, aos atos de vingança popular contra indivíduos odiados ou contra edifícios públicos que o povo só possa relembrar com ódio, não somente devem admitir tais atos, mas assumir a sua direção.”
A posição de principio que essas passagens revelam é a de que no decorrer da luta de classe o proletariado deve se organizar independentemente da burguesia, criar as condições revolucionárias, e não se submeter à legalidade democrática burguesa.
(Ney Gonçalves, escritor)